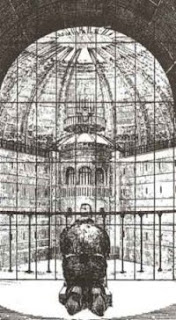Wagner Moreira entrevistado por Wilmar Silva
Vamos, Wagner Moreira, me diga por que escreve poesia?
WAGNER MOREIRA
Escrevo poesia por opção, pelo esforço exigido pela escrita e por ter a sensação de que posso criar algo, não necessariamente nessa ordem. Criar é uma das ações mais complexas que um humano pode exercer e, para tal é preciso optar por esse caminho. Criar poesia é trabalhar a si mesmo, a tradição e o seu tempo com a palavra, em seu traçado e em seu ponto.
WS
Se a poesia é “a liberdade da minha linguagem”, por que os poetas escrevem com medo de errar?
w
Talvez porque desejam que um pouco de ingenuidade e um pouco de imaturidade estejam presentes nessa arte que não permite a gratuidade, a inocência e a pouca experiência, a não ser como temas apresentados pela poesia. Fora isso, não se deveria falar em poeta ou poesia. Lembre-se de um Oswald de Andrade que fala sobre o olhar da criança, por exemplo. Todavia, tudo que esse olhar deseja é uma maior liberdade em relação à língua e a linguagem poética e, sempre, esse olhar é o do adulto poeta que utiliza uma imagem do senso comum para explanar um desejo requintado de seu ato criativo: a realização de uma poesia libertária.
WS
Se a fala é uma língua diferente da escrita, ser pobre é um “pobrema”?
w
Ser por si só é um pobremão! É preciso saber que toda linguagem abre a possibilidade de contato com o poder. Esse fato aclara as questões das diferenças sócio-culturais que permeiam as sociedades contemporâneas. Dessa maneira, pode-se observar que determinados grupos apresentam uma grande dificuldade para conviver com outros, sendo a expressão da língua apenas um desses lugares que presentificam um grau acentuado desse sofrimento social. Mais importante é perceber que não há uma regulamentação que possa ser apreendida desse fato. As diferenças existem. O incômodo causado por elas aparece nos lugares mais inesperados, nas pessoas de todas as categorias sociais que pudermos inventar. Para a poesia, essa tensão é produtiva como tema e como técnica, a questão que se coloca é os poetas estão atentos para a existência dessa tensão? Ou, por outra forma, como os poetas reagem ao dramático espaço de convivência das diferenças? Pensar algo nesse sentido ajuda a se realizar a poesia, tenha ela qualquer expressão.
WS
A propósito da mais histórica vanguarda burguesa no Brasil, o que você pensa, por exemplo, sobre alguns poetas burgueses fazendo poesia nos anos 70 como se descobrissem a pólvora?
w
A burguesia trouxe para a história da humanidade muita coisa. Dentre elas a liberdade de expressão. Nesse sentido, pode-se dizer que o fato de se constatar a existência de poetas em todos os níveis sociais e, creio, em todos os lugares desse planeta, é uma conseqüência das ações históricas burguesas. Caso contrário, somente os tais donos do capital (?) poderiam se dar ao luxo de ser poeta. Por outro lado, qual de nós não comete ações burguesas, vivendo em uma sociedade capitalista? Será que essa possibilidade existe atualmente? É claro, estão presentes no meio social, cultural, político e econômico, uma série de discursos que se dizem contrários ou diferentes do discurso burguês. Todavia, qual deles surge fora das possibilidades abertas historicamente pela tal da burguesia? A poesia dos anos 70 está, sim, marcada pelas contingências históricas tanto quanto qualquer outra década o está. Aqueles que podemos ainda chamar de poetas fizeram o seu papel, eles fizeram do fato, da vida pública e da particular, da violência, da cumplicidade, enfim, do cotidiano a poesia. Os outros, mais ou menos burgueses, não são poetas. Creio ainda precisarmos de mais tempo para que o processo de decantação em andamento venha evidenciar os poetas dos anos 70. É esperar para ver. Alguns nomes são conhecidos de muitos, outros estão à sombra da história.
WS
Como se explica o paradoxo de linguagem entre o plano piloto da poesia concreta e os beatniks de lata da poesia marginal?
w
Muitas pessoas quando se deparam com um paradoxo sentem-se impelidas a pensar uma solução, uma vez que entendem que qualquer paradoxo é um problema e, como tal, deve ser resolvido. Creio que essa postura seja precipitada, principalmente, se se considerar o caso citado anteriormente. Há um certo tipo de paradoxo que deve apenas ser descrito, pois não está disponível como um objeto que possa sofrer uma ação racional, reflexiva, sensorial que seja, em um tempo que se realiza para além do seu acontecimento. Em outras palavras, esses movimentos poéticos, se assim posso chamá-los, aparecem como um processo histórico que tem a necessidade de linearizar os eventos para buscar uma compreensão deles, para descrevê-los, para enumerá-los, etc., sem o peso da noção de progresso, como diria Benjamin, ou como uma evolução literária, segundo Tynianov. Assim, pode-se refletir sobre as diferenças de linguagens verificáveis na literatura brasileira do século vinte como uma linha de força que se coloca através de uma liberdade formadora presente no ato criativo. Quais os valores possíveis de se atribuir à expressão poética desse período é tema para uma reflexão minuciosa e de longo fôlego.
WS
Apesar dos frios anos 80, quando Wagner Moreira nasceu poeta?
w
Isto é algo incerto, seja através das narrativas ouvidas por mim, seja por meio da escrita, tenho a sensação de sempre ter convivido com a tal da palavra, em toda a sua gama de manifestação. Certo é que escolhi o livro que publiquei primeiro, Eunão sou Vincent Willem van Gogh, em 1998. Como efeito público, fica esse registro, somado a outro, o segundo livro publicado, diga-se, em 2002, selêemcio, fora o primeiro a ser criado por mim, o que estabelece um grau de complexidade a mais para responder à sua pergunta. O que posso garantir é que tenho uma necessidade de pensar o livro como um processo aberto, dinâmico, sujeito de si. Se nasci poeta de alguma maneira foi através de um acentuado grau de ficcionalidade do wagner, codinome homônimo de mim.
WS
Sem metáforas a pergunta é: o que é ser experimental nesse Brasil de bugres?
w
Em um país de maioria absoluta de mestiços experimentar é buscar as diferenças e fazê-las conviverem em um mesmo espaço. É estabelecer um procedimento que tenha a capacidade de coser tradições, instaurando um processo amplo de conexões, nas quais se atualizaram e se realizaram as bases de um estado de aproximação e de transpassamento das forças existentes, esperando que as fendas desses encontros apresentem os comportamentos possíveis de serem executados. É estar sempre pronto para reconhecer que as transformações são inevitáveis, quer se goste disso ou não.
WS
Apesar de produzir uma poética de invenção, você, Wagner, prefere ficar em São Pedro a invadir uma São Paulo, por exemplo?
w
Nenhum lugar é a sideração do poeta. Ou, o espaço do poeta é a poesia. É preciso fazer poesia, e não apenas desenvolver um discurso de poder que utiliza imagens ambíguas para se estabelecer. A poesia fala em suas linguagens de claros e enigmas o suficiente para aqueles que a ouvem. É preciso estar atento, já foi dito mais de uma vez. A única geografia que interessa, portanto, é a poética.
WS
E em Belo Horizonte, que espécie de poesia é produzida nesse lugar que realmente interesse à mídia e à academia?
w
Parte da mídia e parte da academia está muito preocupada com aquilo que é chamado de fenômeno de mercado. Em outras palavras, só se dá atenção para publicações de autores consagrados que tenham uma presença ativa nos meios de comunicação. Todavia, apesar de ser esse o lugar comum, deve-se observar que há aqueles críticos que sabem e desempenham o papel investigativo e seletivo, expressando um valor sobre o que é produzido por aqui. Mais importante para os poetas é saber que estamos em uma época de uma intensa e variada produção poética. Assim, não se deve esperar que a mídia ou a academia se pronuncie sobre o valor de seu trabalho. Ficar preocupado com o que poderão falar ou silenciar sobre a própria obra é uma espécie de passividade que não condiz com quem, deliberadamente, escolhe escrever. É preciso agir, criar, escrever e, sobretudo ler, ler muito e de tudo, para que o próprio poeta saiba de onde fala e para quem fala. Essa é a força em ação que qualquer escritor deve impor ao mercado, à mídia e à academia. O resto é com o tempo.
WS
Sendo professor de Literatura, poesia é literatura ou Ezra Pound é um blecaute?
w
Pound me parece mais um iluminado, alguém que sabia o que estava fazendo. Como a maior parte dos modernos, ele projetou em sua obra um caráter utópico enorme, desenvolvido com apuro técnico e poético. A poesia pode estar em qualquer espaço, sob qualquer nome. Não vejo nenhum problema no fato de se identificar o vocábulo literatura com ela. Buscar essa diferença pressupõe que o poético seja como um estado de exceção, com o que eu não posso concordar. Geralmente, pensar por essa via acaba, no mínimo, insinuando um discurso fascista como o fazer poético. Sei que há escritores e críticos que defendem tal diferença, mas é preciso estar alerta para as pseudo-imposições divulgadas como forma de se estabelecer um cânone contemporâneo.
WS
Com alguns livros publicados e uma poética inassimilável, inclusive entre os seus pares, como é ser um poeta extemporâneo ao seu próprio tempo?
w
Primeiro, eu só posso ser no tempo em que vivo. Ainda não consigo deslizar de um tempo para outro. Mas a poesia que faço é capaz disso, sim. O fato de grande parte dos escritores seguirem, cegamente, a tradição de João Cabral de Melo Neto, é algo sintomático de um tempo de incertezas, no qual é preciso inventar a certeza, nem que seja por meio do discurso poético estabelecido. Enfim, é uma escolha confortável, pois, viver à sombra sempre é menos intenso, menos arriscado. Poucos são os poetas que tem a consciência de seu caminho e em seu exercício enfrentam a poderosa e iluminada escrita cabralina, inclusive para criar diferença por dentro dela. Eu percorro outro caminho, se quiserem ler o que faço, é preciso estar atento para essa questão que impera, atualmente, em nossa sociedade.
WS
Wagner Moreira, quando nasce um poeta antes de sua realidade física?
w
A todo instante. Em nenhum instante. Um poeta nunca tem uma realidade física.
WS
A memória é um presente para salvar o futuro ou a poesia jamais vai transcender a existência?
w
A memória pode ter essa função salvadora, principalmente, se estiver conectada a um discurso religioso que a auxilie no se direcionar para um movimento de transcendência. Mas, é preciso observar que a memória não tem essa função como inata a ela. Quanto a poesia, ela pode sim transcender a existência, desde que seja a sua intenção poética. Ela é capaz de se dar em um espaço que esteja para além do cotidiano. Todavia, deve-se perceber que ao realizar tal ato, a poesia estabelece, pelo menos, um ponto de contato entre o que se faz existência e o que se faz para além dessa. Memória e poesia estão muitas vezes justapostas nos escritos poéticos. Entretanto, é preciso saber que a força do imaginário não tem que nascer dessa relação. E essa força contribui para se estabelecer um grau de ficcionalidade para o fazer poético muito importante, porque mostra a possibilidade da poesia acontecer sem a predominância da memória. Dizendo de outra maneira, é preciso entender que a memória não tem a necessidade de ser pessoal, uma vivência. Ela poder ser a do outro, a do coletivo, ela pode ser uma experiência de outro poeta, de outro ser que venha falar com o poético.
WS
O que pensa sobre o corpo de bronze de Henriqueta Lisboa na Savassi em Belo Horizonte?
w
Se se pensar na vida de Henriqueta, como querem muitos, talvez fosse necessário que sua presença não estivesse tão exposta. Talvez se tivesse que pensar em um lugar público que fosse mais reservado. Todavia, como afirmação de seu valor por ser um dos nomes mineiros mais importantes da poesia, qualquer praça onde haja uma grande circulação de pessoas é o seu lugar. O que mais gosto em sua poesia é o tratamento que ela dá para os espaços físicos e transcendentes. Ambos se apresentam com uma plasticidade exuberante, seja pelo falar sobre a natureza, seja por indiciar o estado de sublimação. Precisa-se não confundir ritmo intenso, imagens fluidas e abertura de significação com manifestação de fraqueza poética. E isto já reflete a força de sua exposição firme e, ao mesmo tempo, delicada, seja na poesia ou na praça.
WS
Consegue fazer uma viagem à eternidade só para encontrar com Artur Rimbaud, ou Rimbaud é um narciso do fracasso?
w
Rimbaud tornou-se um mito de fundação que se fez depois do início da gênese moderna. Muito de sua imagem está diretamente associado ao olhar anacrônico, fabular e romantizado sobre sua vida. O que me interessa em Rimbaud é a iluminação profana e suas possibilidades como instrumento de criação poética. Se se quiser pensar sobre como a sua vida contribuiu para a poesia, melhor seria rememorar as suas relações com os artistas da época. Talvez essas relações contribuam muito para os escritores atuais repensarem a necessidade de se ler os seus contemporâneos. Talvez essas relações possam marcar a importância do diálogo entre maneiras de se realizar a poesia em uma dada época.
WS
A vitória pelo fracasso é a fresta de saída para o sucesso depois da morte?
w
Isso é muito dramático para o meu gosto. O que todos temos que nos perguntar hoje é o que pode ser entendido como sucesso ao se escolher fazer poesia. Quem tiver a resposta já achou o queijo, só falta acionar a faca-palavra.
WS
Se pudesse eleger 33 poetas contemporâneos vivos para uma viagem ao desconhecido, com quem você viajaria?
w
Para o desconhecido, eu só viajaria com Dante como o meu guia. Se, e somente se, ao chegar em tal não lugar pudesse encontrar aquela que é a minha Beatriz.
WS
Fale o que significa a vida ao poeta enquanto condição?
w
Poeta não tem vida. Poeta é ficção. Há um sujeito que dá face e corpo, quando lhe interessa ao tal poeta. Esse sujeito é como qualquer outro. Em um mundo capitalista, ele tem que trabalhar. Tem que cumprir o seu papel de produtor de produtos, de consumidor de desejos pessoais e coletivos. Deve cuidar, como todo mundo, de sua imagem pública e privada. Enfim, viver para o bem ou para o mal o seu tempo. A época na qual vivemos é cirurgicamente violenta, em diversos sentidos. Morre-se pelas causas mais previsíveis e banais. Reinventamos uma nova significação para a palavra selvageria e para a palavra barbárie. Assim como inventamos uma nova significação para a palavra desejo e para a palavra sonho. Como para qualquer um de nossa espécie, existir não é fácil e tem suas belezas.
WS
A miscigenação brasileira pode ser comparada à miséria de criação a que os poetas se submetem?
w
Não! A miscigenação é a prova contra todos os preconceitos possíveis e imagináveis. É o riso de vitória daqueles que experimentam suas diferenças como espaço de convivência amoroso e fraternal. Só as pessoas ignorantes sobre o processo histórico dos movimentos de massa de nossa espécie são capazes de acreditar em pureza racial ou sei lá o nome que se queira dar para essa manifestação fascista. A miséria está ligada apenas ao exercício de poder em determinados grupos sociais. Acho que se se pode falar nesses termos em relação aos poetas é porque por um lado, eles não estão desempenhando bem o seu exercício artístico; e ou, por outro lado, o mercado tende sempre a criar uma reserva, um grupo de produção de segunda linha [neste caso, segunda linha não tem um caráter qualitativo] para suprir seus espaços vagos e manter a demanda atendida.
WS
Poeta tem pai e mãe, ou pai e mãe de poeta é uma angústia da influência?
w
A influência e todas as formas de conexão com outros poetas e escritores só se manifesta com angústia para aqueles que tem como preocupação central de seu trabalho a originalidade. Os modernos são assim, por exemplo. Se muitos poetas ainda se comportam dessa maneira, talvez seja por assumirem esse lugar da tradição moderna como ponto de partida para a sua criação poética. Para aqueles outros poetas que não se sensibilizam com a necessidade de instauração de um estado original, a angústia, caso apareça em seus textos, deve ser refletida a partir de suas motivações. O certo é afirmar que não se faz poesia do nada, melhor dizendo, pode-se sempre observar um diálogo com outros escritores ao se ler qualquer obra.
WS
Wagner Moreira, se José foi um carpinteiro, o poeta de hoje é também um instalador de artes plásticas?
w
A poesia sempre esteve atenta para os vários suportes disponíveis em diferentes épocas da história da humanidade. Seus contatos com a música, o teatro, as artes plásticas e consigo mesma vem de longa data. Hoje, parece que vivenciamos um despertar em relação à potência expressiva do poético e, talvez, seja essa uma das ótimas influências da chamada revolução eletrônica para a apresentação da poesia em diversos suportes. É bom lembrar que a voz, a velha e original voz continua a se afirmar como o suporte mais utilizado e encantador de todos os tempos. O poeta, em outras palavras, apresenta-se como o fazedor de cenas, de espaços, de meios, de sons, de imagens e de palavras que em seu trabalho ganham a força poética.
WS
Se falar é diferente de escrever, a língua é uma só ou a língua que se fala é uma língua e a língua que se escreve é uma outra língua?
w
No cotidiano, os usos da língua pedem formas exclusivas em diversas circunstâncias. No espaço poético, isso é algo irrelevante, uma vez que toda a expressão oral e escrita traz em si formas e significações fundamentais para a construção da poesia.
WS
O que aquele andarilho quis dizer com “eu é um outro” ou eu é eu e outro é outro?
w
Talvez quisesse afirmar a condição efêmera na qual existimos e exercitamos as nossas faces. Se se concordar com essa perspectiva, deverá se afirmar que o outro também está condicionado por esse estado de transitoriedade. Isso equivale a mostrar um acentuado grau de falência que está presente em nossa maneira de existir e, portanto de entender o mundo no qual vivemos. Assim, tudo que se faz recebe a efígie da ruína, da derrocada, por mais que venha a tardar. A poesia é uma dessas linhas de força que se desdobram com o intuito de reconhecer essa vertiginosa fissura e com ela, tentar se estender para além do estado de perda absoluta.
WS
Ser poeta é ser político, a política do poeta é uma política original?
w
Todo ser é político assim como todo ser é histórico. Isso é uma condição social ou uma condenação da vida como a entendemos. Toda vez que se luta por liberdade, está, simultaneamente, derrotando-se uma outra forma de entender as relações sociais. Fazer poesia não está livre desse processo. Tão dinâmica quanto qualquer movimento de agrupamentos de pessoas, a poesia se afirma como espaço autônomo em relação aos outros com os quais se conecta. Elege para si um lugar que pode ou não se relacionar com a vida de maneira direta ou não, chamando a isso de liberdade de utilização de funções as mais diversas. Isso é a essência da ação política, poder exercitar os percursos mais convenientes a si mesma, de acordo com o próprio entendimento de sua presença, de sua expressão. Desse modo, a política do poeta é a política da hora presente, carregada de subjetividade, de ambigüidade e de individualidade, por mais que aquele procure representar toda uma classe social, com raríssimas exceções.
WS
Se os poemas escritos por Wagner Moreira nascessem escritos por uma cor, que cor Wagner Moreira estaria pintando?
w
Todas as cores de cor-nenhuma. Nenhuma cor de todas-as-cores.
WS
O poeta tem sexo ou essa coisa de que poesia não tem macho e nem fêmea e nem natureza é coisa partida em cima do muro?
w
O poeta tudo nada pode. Ele se faz como quiser. Seu sexo, quando aparece, é uma escolha que não tem a necessidade de ser definitiva. Aliás, como na vida de qualquer pessoa. É fato que muitos escritores entenderam que escrever seria algo que se faz com uma voz semelhante à sua no que diz respeito ao sexo. Mas isso não é uma regra estabelecida. Pense-se nas cantigas de amigo, pense-se na ficcionalização do discurso, ou mesmo na livre manifestação do imaginário. Tudo é possível em poesia.
WS
A fala é o falo?
w
Pode ser. Isto é, é o que pode vir a ser. Contudo, não pode ser. Isto é, é o que não pode vir a ser.
WS
Mas a mulher que escreve poesia com que falo ela escreve?
w
Com aquele que ela inventar e que, dessa maneira, será sempre o dela.
WS
É possível traduzir a sua poesia ao tupi-guarani ou os índios realmente deveriam ser mortos como fantoches sem voz?
w
Como é possível trazer a poeticidade de seus tecidos verbais para a língua portuguesa, lembre-se de Herberto Helder, também é possível ser levado para qualquer língua, de qualquer povo. A questão que se coloca é: não entenderiam eles essa poesia como mais uma forma de aculturação imposta? Ou, por outra, estariam eles interessados em conhecer as expressões poéticas realizadas em outras línguas? A partir dessas colocações poder-se-ia refletir sobre tal ação poética.
WS
Sem corpo nem espírito, como ficam os poetas de hoje que sequer revelam a origem ou o fundo vertical do futuro?
w
O exercitar-se no meio do caminho parece-me já uma tarefa hercúlea. Se algum poeta conseguir criar algo sem começo nem fim, ele estará fundando uma tradição, o que seria extraordinário. Entretanto, creio que você esteja falando de um desnorteamento que impera ao se lançar um olhar sobre as ações poéticas contemporâneas. O excesso de caminhos apresenta um grau de complexidade da poesia como nunca fora visto anteriormente. Isto não significa uma perda de qualidade, necessariamente, mas reforça alguns aspectos recorrentes dessa fazer artístico como a fragmentação, o excesso como expressão poética, a condição de ruína, a conectividade como força criadora, a visualidade explorada em diversos suportes e linguagens, por exemplo. Certamente, pode-se verificar um grande número de pessoas que publicam e não deveriam, ainda, utilizar o nome de poeta. Para esses, sugiro muita leitura e trabalho.
WS
Brasil é América Latina ou Brasil é África?
w
Pode ser. Isto é, é o que pode vir a ser. Contudo, não pode ser. Isto é, é o que não pode vir a ser. Tudo nada cabe na Lata-Brasil.
WS
Além do umbigo, Wagner Moreira, “há uma gota de sangue em cada poema”?
w
Se o sangue for de papel. Se a gota for imaginária. Se o poema for poema. Se a flor for f...
WILMAR SILVA, natural de Rio Paranaíba, Minas Gerais, 30 de abril de 1965. Vive em Belo Horizonte desde 1986. Estudou Artes Cênicas, Letras e Psicologia. Poeta e multiartista que tem chamado a atenção de criadores e jornalistas de cultura pela linguagem de invenção em seus trabalhos de alta voltagem. Selecionado para o Museu da Língua Portuguesa, de São Paulo. Escolhido pela ensaísta Prisca Agustoni para a antologia “Oiro de Minas a nova poesia das Gerais”, publicada em Portugal, 2008, pela editora Ardósia, colecção Pasárgada, entre os dez melhores poetas dos últimos trinta anos no Brasil. Performer que tem se apresentado nos mais diferentes espaços e encontros de literatura e arte, a exemplo da performance experimental “O Sétimo Corpo”, estréia no Centro de Cultura de Belo Horizonte, apresentada no Fórum das Letras de Ouro Preto. E outras performances apresentadas no Circo Voador do Rio de Janeiro, na Casa das Rosas em São Paulo, na Fundação Casa das Artes em Bento Gonçalves no Congresso Brasileiro de Poesia, na Casa da América Latina em Lisboa, Portugal, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, na Bienal do Livro de Minas na Expominas. Tem publicações em revistas e jornais e internet. Traduções para o francês, italiano, inglês e espanhol. Poemas musicados por Jorge Dissonância, Reynaldo Bessa, Anand Rao, entre outros. Curador desde a estréia em 2005 do projeto de poesia “Terças Poéticas”, da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, parceria Suplemento Literário e Fundação Clóvis Salgado, com mais de cem edições realizadas até agora, recebendo poetas e artistas do Brasil e do exterior. A partir de 2008 o projeto “Terças Poéticas” se expandiu em “Terças Poéticas ao Interior de Minas Gerais”, com edições mensais nas cidades pólos do interior do Estado. Fundou em 2002 a editora Anome Livros, norteada a publicação de poesia contemporânea em língua portuguesa, com mais de 100 (cem) autores publicados até 2008. O poeta Wilmar Silva realiza no momento um dos trabalhos mais interessantes de pesquisa de poesia, trata-se do projeto “Portuguesia: Minas entre os povos da mesma língua, antropologia de uma poética”, que consiste em cruzar as experiências de linguagem produzidas por poetas vivos do mundo lusófono. Wilmar Silva será publicado em Portugal pela Cosmorama Edições (www.cosmorama.com.pt), “Yguarani”, antologia de sua obra poética. Wilmar Silva publicou pela Anome Livros em 2007 a segunda edição de “Estilhaços no Lago de Púrpura”, onde o poeta assina Joaquim Palmeira. Blog www.cachaprego.blospot.com.
Livros publicados
“Lágrimas & Orgasmos”, Ed. Arte Quintal, BH, MG, 1986, “Águas Selvagens”, Ed. Asbrapa, BH, MG, 1990, “Dissonâncias”, Ed. Asbrapa, BH, MG, 1993, “Moinho de Flechas”, Prêmio Jorge de Lima, UBE, RJ, Ed. Blocos, RJ, RJ, 1994, “Solo de Colibri, Prêmio Blocos de Poesia, Ed. Blocos, RJ, RJ, 1997, “Çeiva”, Ed. Mulheres Emergentes, Coleção Almanach de Minas, BH, MG, 1997, “Cilada”, Ed. Guimarães e Toffalini, BH, MG, 1997, “Pardal de Rapina”, Orobó Edições, BH, MG, 1999, indicado melhor livro publicado, Jornal Hoje em Dia, BH, MG, “Anu”, Orobó Edições, BH, MG, 2001, “Arranjos de Pássaros e Flores”, finalista Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte, Prêmio Academia Mineira de Letras, melhor livro de poesia publicado, Orobó Edições, BH, MG, 2002, “Lágrimas & Orgasmos”, 2a edição, Anome Livros, BH, MG, 2002, “Cachaprego”, Prêmio Capital Nacional 2005, Congresso da Sociedade de Cultura Latina Brasil/ Sergipe, Aracaju, Sergipe, Anome Livros, BH, MG, 2004, “Estilhaços no Lago de Púrpura”, Anome Livros, BH, MG, 2006, 2ª edição 2007, “Anu”, 2ª edição, Confraria do Vento, RJ, RJ, 2008.
Antologias
“Antologia da Nova Poesia Brasileira”, org. Olga Savary, Fundação Rio, Ed. Hipocampo, RJ, RJ, 1992, “Verdes Sons Azuis”, org. Wilmar Silva, Arte Vide Verso, BH, MG, 1995, “A poesia mineira no século XX”, org. Assis Brasil, Ed. Imago, RJ, RJ, 1998, “Cantária”, org. Wagner Torres, Ed. Plurarts, BH, MG, 2000, “A poesia belorizontina contemporânea – prenúncio de outra coisa”, org. Anelito de Oliveira, Dimensão – Revista Internacional de Poesia, Uberaba, MG, 2000, “O achamento de Portugal”, org. Wilmar Silva, Prêmio Aires da Mata Machado, Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, Anome Livros, Consulado de Portugal Belo Horizonte, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Camões, BH, MG, 2005, “Pelada Poética”, org. Welbert Belfort e Mário Alex Rosa, Scriptum Livros, BH, MG, 2006, “Terças Poéticas: jardins internos”, org. Wilmar Silva, Secretaria de Estado de Cultura de MG, Suplemento Literário e Fundação Clóvis Salgado, BH, MG, 2006, “Oiro de Minas a nova poesia das Gerais”, org. Prisca Agustoni, Ed. Ardósia, Colecção Pasárgada, Lisboa, Portugal, 2008
 conversa com Maureen Bisilliat
conversa com Maureen Bisilliat