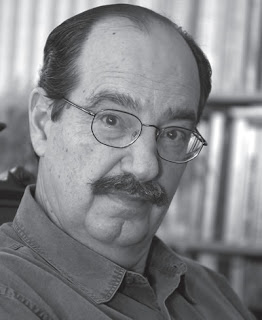Doutor em Filosofia pela Universidade de Nanterre, na França, Arantes comenta nesta entrevista o caos sistêmico pelo qual o mundo passa e a ausência de política, que leva a guerras e ao terrorismo
POR PATRÍCIA PEREIRA
FOTOS: PAULO BRASIL
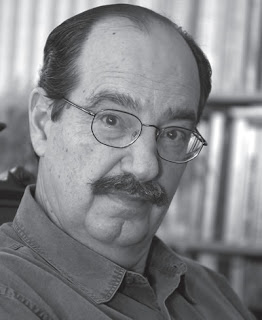 “A rigor, ninguém sabe ao certo por que Bush invadiu o Iraque. Obviamente, petróleo, Israel, establishment industrial-militar etc. pesaram, mas o que realmente se tinha em mente continua um mistério”
“A rigor, ninguém sabe ao certo por que Bush invadiu o Iraque. Obviamente, petróleo, Israel, establishment industrial-militar etc. pesaram, mas o que realmente se tinha em mente continua um mistério”Paulo Arantes aposta que “dentro em pouco o caos iraquiano estará sendo vendido à comunidade internacional como um paradigma de best practice”. O filósofo marxista lançou em 2007 o livro Extinção (Boitempo Editorial), em que, entre outros temas, analisa o imperialismo norte-americano e a guerra no Iraque. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP) – onde foi professor do Departamento de Filosofia de 1968 a 1998 – e doutor em Filosofia pela Universidade de Nanterre, na França, Arantes comenta nesta entrevista o caos sistêmico pelo qual o mundo passa e a ausência de política, que leva a guerras e ao terrorismo. Também afirma que a Era dos Extremos, que se encerrou com o breve século XX, segundo Eric Hobsbawm, parece estar de volta. Só que escalando entre extremos indiscerníveis.
FILOSOFIA - Em seu mais recente livro, Extinção, você cita a presença dos EUA no Iraque como exemplo da desordem que o mundo vive hoje. Diz que não dá mais para diferenciar quem ganha e quem perde ou onde termina a guerra e começa a paz. O cenário de caos que se alastrou no mundo é conseqüência de um somatório de decisões aleatórias, não interligadas, ou é o resultado de uma nova forma de organização social, ainda que caótica?
Paulo Arantes - É como você diz, a novidade não está no cenário de caos, mas na impossibilidade de saber onde termina o surto de insanidade social e começa a rotinização do impensável. A governança global hoje é o caos sistêmico, os opostos estão se tornando indiscerníveis. Não por acaso alguns sociólogos brasileiros já estão falando numa Era da Indistinção, em primeiro lugar porque a grande mutação cataclísmica da sociedade brasileira mostrou-lhes que não dá mais para distinguir, por exemplo, entre a ebulição participativa dos movimentos sociais e o protagonismo da sociedade civil exigido pelo grande capital privatizante – quer dizer, entre nova esquerda e nova direita. Também ficou difícil distinguir no aplicador financeiro indireto de um fundo de pensão, o assalariado do qual se extrai mais-valia, portanto o rentista, do explorado, para não falar no trânsito popular infernal pela miríade de ilegalismos alimentados por uma outra crescente indistinção entre o lícito e o ilícito. Em suma, a mesma lógica da indistinção ou da intercambiabilidade entre opostos indiscerníveis vem a ser o princípio do governo pelo caos que se alastra por um mundo que virou de vez a página da normalidade capitalista, com ou sem aspas. Por isso, a invasão e a ocupação do Iraque – uma guerra de escolha e não um último recurso – tornou-se paradigmática: caos programado ou desastre estratégico? Segundo Paul Virilio, chegamos a um ponto em que o substancial e o acidental já não se distinguem mais como nos tempos da ontologia aristotélica, isto é, desde sempre. Não só o acidente tornouse substantivo – o que em si mesmo já definiria a novidade radical de nossa atual Sociedade de Risco – como a explosão acidental de uma megaestrutura crítica tornou-se para todos os efeitos e nova direita. Também ficou difícil distinguir no aplicador financeiro indireto de um fundo de pensão, o assalariado do qual se extrai mais-valia, portanto o rentista, do explorado, para não falar no trânsito popular infernal pela miríade de ilegalismos alimentados por uma outra crescente indistinção entre o lícito e o ilícito. Em suma, a mesma lógica da indistinção ou da intercambiabilidade entre opostos indiscerníveis vem a ser o princípio do governo pelo caos que se alastra por um mundo que virou de vez a página da normalidade capitalista, com ou sem aspas. Por isso, a invasão e a ocupação do Iraque – uma guerra de escolha e não um último recurso – tornou-se paradigmática: caos programado ou desastre estratégico? Segundo Paul Virilio, chegamos a um ponto em que o substancial e o acidental já não se distinguem mais como nos tempos da ontologia aristotélica, isto é, desde sempre. Não só o acidente tornouse substantivo – o que em si mesmo já definiria a novidade radical de nossa atual Sociedade de Risco – como a explosão acidental de uma megaestrutura crítica tornou-se para todos os efeitos
1Acidente ocorrido na cidade Bhopal, centro da Índia, no dia 3 de dezembro de 1984,
quando produtos químicos foram liberados acidentalmente da fábrica de pesticidas
da Union Carbide, provocando a morte de cerca de 3 mil pessoas e milhares
de feridos. Os responsáveis ainda não foram culpados pela tragédia.
FILOSOFIA - De que maneira a Era dos Extremos estaria de volta?
Paulo Arantes – Parece estar de volta. Só que, desta vez, escalando entre extremos indiscerníveis. Trata-se de uma verdadeira ruptura de época e da correspondente obsolescência de antigas categorias, a começar pela racionalidade estratégica, por exemplo, na adequação entre meios e fins. A rigor, ninguém sabe ao certo por que Bush invadiu o Iraque. Obviamente, petróleo, Israel, establishment industrial-militar etc. pesaram, mas o que realmente se tinha em mente continua um mistério – talvez porque não haja mesmo resposta para uma pergunta formulada nos moldes antigos: por exemplo, a que política a guerra do Iraque estaria dando continuidade por outros meios? Conhecemos a resposta de Baudrillard – nada trivial: a nenhuma! Mais precisamente, tanto as atuais guerras de gestão do caos quanto a correspondente escalada terrorista nada mais são do que o prolongamento por outros meios da ausência de política. Absolutamente nada foi dito nem exigido em troca no 11 de setembro. Quanto à estranha mescla de caos e grand design atualmente em curso no Iraque e no Afeganistão, da qual, segundo os autores do livro Afflicted Powers [Iain Boal, T. J. Clark, Joseph Matthews, Michael Watts, entre outros, que fazem parte de um grupo baseado em São Francisco, Estados Unidos, antagonista do capital e império], nenhuma análise meramente econômica ou política dará mais conta, é preciso por certo convir que plantar uma presença militar americana de larga escala e longa duração no coração do Oriente Médio representa uma enorme iniciativa estratégica, destas de criar ou quebrar impérios. Quem assim se exprime é um calejado estudioso da comunidade americana de segurança, Thomas Powers, que não obstante chegou à conclusão paradoxal de que parece mesmo não ter havido nenhuma versão interna, sofisticada, profissional, dos motivos que levaram a uma guerra de dissolução do Estado e da sociedade iraquianos. Ausência de “pensamento” também. Não menos interessante, continua o argumento, é a evidente vontade da maioria parlamentar democrata de não saber quais foram os motivos que levaram Bush à guerra. Daí o desfecho revelador do novo curso do mundo, apenas enunciado como um teorema da névoa que envolve as guerras caotizantes de agora: “Não saber por que entrávamos permitiu que entrássemos; não saber por que deveríamos sair tornará impossível sair”. Tampouco Hobsbawm está entendendo muita coisa (com todo o respeito) dessa nova era de extremos indiscerníveis, neste caso, ordem e desordem. Como se pode depreender de seu último livro, o epicentro da desordem mundial se encontra no governo incontrolável e irracional que se estabeleceu em Washington, como se o princípio freudiano de realidade não funcionasse para Bush e seus milhões de eleitores milenaristas. Até mesmo Perry Anderson [intelectual e historiador marxista inglês, editor da revista New Left Review] parece derrapar no último editorial da New Left Review (novembrodezembro de 2007). A seu ver, embora seja inegável o declínio da economia americana num contexto global no qual despontam outros centros alternativos de poder capitalista, sua capacidade gerencial em termos de ativos estruturais de poder continua mais do que nunca indispensável aos sócios da assim chamada comunidade internacional de oligarquias rentistas e monopolistas. Quanto ao mundo subalternizado do trabalho, cuja população simplesmente dobrou na presente conjuntura – aproximadamente 3 bilhões de indivíduos são esfolados numa escala que nem mesmo o século XIX conheceu – no curto prazo constitui muito mais um ativo do que uma ameaça para o capital, enquanto o seu poder de veto permanecer próximo de zero. A conjuntura é, portanto, de harmonia (a Casa da Harmonia – na fórmula de Perry Anderson) num ambiente de negócios densamente interconectados: se porventura a supremacia americana vier a ser desafiada, o sistema enquanto tal ainda permanecerá fora de questão, sistema, no entanto, que esta mesma supremacia controla frouxamente, porém defende com firmeza nunca vista.
O termo caos tornou-se lugar comum, expectativa
de paz com o fim da Guerra FriaArqueologia dos temores[Sobre os intelectuais] No Brasil e no mundo, todos e cada um encasulados em uma espécie de bunker particular. Como gerentes de risco de si mesmos, não mexem um dedo sem garantias contra qualquer excesso. É bem verdade que muitos experimentos anticapitalistas do passado são mesmo de meter medo, sendo aliás imprudente caluniar abstratamente a polícia. Essa a conjuntura mental que um retrato intelectual do Brasil contemporâneo deveria rastrear, uma arqueologia dos temores que paralisam faz algum tempo a inteligência do País. Quando se instalou exatamente essa estratégia de sobrevivência, que se poderia caracterizar como um estado de sítio moral? Qual a matriz desse mecanismo defensivo que se exprime por estereótipos economicistas acerca da falta de alternativas? A história social do medo intelectual no Brasil nos levaria longe.
Trecho do livro Extinção, de Paulo Arantes, da editora BoitempoFILOSOFIA - Dentro desta perspectiva, como pode ser encarado o conflito atual no Oriente Médio?
Paulo Arantes - Nesta “sinfonia da ordem capitalista global”, o conflito no Oriente Médio só pode aparecer como uma “irracionalidade”, histórica e regionalmente circunscrita – entre as aberrações responsáveis por esta descalibragem assustadora, a defesa incondicional do poder colonial de Israel. A mencionada ausência de pensamento estratégico que teria dado forma a este episódio central do “império do caos” – como Alain Joxe designa a estratégia americana de externalização da violência – seria assim a expressão desta interrupção anômala do cálculo capitalista, confrontado com uma zona opaca de desmandos imperiais acumulados, ponto cego dos planejadores americanos ao tratar o Oriente Médio como um campo de forças qualquer.
FILOSOFIA - Que conseqüência essa “falta de pensamento” trouxe para o mundo?
Paulo Arantes - À cegueira dessas irrupções na região – região, no entanto, desde sempre fidelizada aos imperativos da acumulação - corresponde à série de efeitos bumerangue que culmina no 11 de setembro, acrescentando assim uma nova e desnecessária rodada na “espiral de irracionalidades”. Enfim, não estava provado que uma solução de mercado não fosse possível. Simples assim. Perry Anderson chega ainda a especular, com muita verossimilhança, a propósito, se não seria o caso, colocando afinal a região nos eixos, de uma histórica visita- Nixon ao Irã, onde não faltam mulás milionários, bazaari poderosos, profissionais ocidentalizados, estudantes “bloguisados”, etc. Sobressaltos irracionais à parte, a normalidade capitalista retomaria seu curso neste último bolsão de turbulências incompreendidas pelos gestores globais de segurança do sistema. No fundo, ainda uma variante do argumento blowback, algo como um contravapor ou ricochete explosivo, formulado pela esquerda liberal americana: estamos colhendo as tempestades provocadas pelos ventos semeados com nossa desmesurada projeção de poder nas regiões críticas do mundo. Um pouco como Sarkozy atiçando a “ralé” dos “bairros sensíveis” da periferia francesa. Endossando tal argumento, a teoria crítica volta a marcar passo ao procurar preservar assim uma noção de causa e efeito cujo prazo de validade venceu, além de demarcar um mundo polarizado entre a ordem do centro e a desordem da margem. A observação é de Susan Willis analisando a multiplicação dos focos de anomia na própria sociedade americana, cuja normalidade derrete ao sol da expectativa do próximo ataque, de resto uma desordem também “interior”.
 FILOSOFIA
FILOSOFIA - Voltando ao “caos” iraquiano...
Paulo Arantes - Na falta de melhor palavra: decididamente a raiz conservadora do termo acaba baralhando a percepção da reviravolta em curso, pois, afinal, o caos tem origem social subalterna enquanto o cosmo espelha no universo o ordenamento cívico dos civilizados. De resto, o termo caos tornou-se um lugar comum datado, exatamente do sentimento de frustração das expectativas investidas nos quiméricos dividendos da paz a serem distribuídos com o fim da Guerra Fria. Nem mesmo teóricos do World System como Giovanni Arrighi escaparam inteiramente da armadilha, batizando de caos sistêmico o interregno turbulento historicamente recorrente toda vez que se processa uma mudança da guarda nos círculos superiores da hegemonia mundial, como é o caso hoje com o declínio violento de um hegemon recalcitrante, com uma novidade geopolítica que, no entanto, faz toda a diferença no emprego do termo equívoco caos, uma inédita bifurcação entre capacidades financeiras e militares, sem precedentes nas outras transições hegemônicas: é que se uma tal bifurcação reduz a probabilidade de eclosão de uma guerra entre as unidades mais poderosas do sistema, como nos séculos anteriores, não reduz as probabilidades de que a atual crise hegemônica “degenere” num “caos sistêmico” indefi- nidamente prolongado, adiando ameaçadoramente a recondução do sistema ao seu trilho habitual de governança. Daí a inversão pela qual comecei a resposta à sua dúvida na primeira pergunta. Estava obviamente citando. Ora, o caos iraquiano – e demais “ocupações” correlatas mundo afora – é um desses laboratórios de gestão-dissolução. Será, todavia, mais convincente um argumento involuntário nascido no próprio establishment, no caso um artigo irônico do jornalista Jim Holt, afirmando que é o petróleo sim e que os Estados Unidos estão encalacrados justamente onde Bush & Cia. queriam, e que por isso mesmo não há nem pode haver estratégia de retirada. Ora, dizer que a ocupação do Iraque não foi um fiasco, mas um sucesso retumbante, que foi precisamente um serviço horrivelmente malfeito, pouco importa se de caso pensado ou não, basta agir com a desmedida de uma força da natureza, que praticamente garantiu que o Iraque venha a se transformar num protetorado americano é o mesmo que admitir então, atinando enfim com a real acepção contemporânea da palavra caos, que a desgraça social está se convertendo hoje não só numa gigantesca fronteira de acumulação, mas também na principal alavanca disciplinar de controle das populações. Tanto faz se desconectadas e em situação de risco, ou integradas, porém ameaçadas em meio à afluência, assentadas em territórios convulsionados, também tanto faz se por conflitos militares ou catástrofes naturais que no limite já são plenamente sociais. Dentro em pouco o caos iraquiano estará sendo vendido à comunidade internacional como um paradigma de best practice.
Há quem veja na virada atual de maré o início de uma terceira
onda emancipatória no continente (latino-americano)
Guerra preventiva
O sistema capitalista de exploração e controle se caracteriza pela autonomização recorrente de processos sociais que passam a funcionar como uma segunda natureza. A sensação de que a administração Bush perdeu o contato com a realidade se explica em grande parte por essa circunstância. Num certo sentido, a paranóia que a impulsiona é objetiva, pois obedece a uma tal necessidade de segundo grau. No entanto, não é menos verdadeiro que se trata de uma guerra por escolha, e não por necessidade. A analogia com o etos guerreiro do cowboy tem sua razão de ser: numa guerra preventiva, em princípio também vence quem saca primeiro, porém na segunda ou terceira guerra não se poderá mais ignorar o aberrante automatismo do gesto.
 Trecho do livro Extinção, de Paulo Arantes, da editora BoitempoFILOSOFIA
Trecho do livro Extinção, de Paulo Arantes, da editora BoitempoFILOSOFIA - Partindo dessa perspectiva, caos viraria a norma?
Paulo Arantes - Se Naomi Klein tem razão, a indistinção entre boa governança e caos sistêmico (as aspas agora ficam subentendidas) assinala a irresistível ascensão do “capitalismo de desastre”, algo como a privatização final da guerra e dos “acidentes”, de preferência em escala mega: assim como as guerras hoje são, sobretudo, de escolha ou preventivas, bem como também podem eclodir ou “estourar” como o rompimento de um dique, os acidentes também podem ser induzidos ou simplesmente “acontecer”. O princípio do disaster capitalism complex, que englobou e expandiu seu precursor industrial-militar dos tempos de Eisenhower, é o da tábula rasa social, a constelação de traumas e destruições que limpam o terreno para os negócios privados, dos socorros humanitários às reconstruções, passando obviamente pelos da segurança, qualquer que seja a natureza do sinistro, maremoto, quebra financeira ou atentado terrorista, qualquer ambiente caótico em suma que configure um estado de necessidade demandando medidas de urgência. Chegamos assim a uma derradeira indistinção entre forças produtivas e forças destrutivas. Daí o outro tipo de estado de guerra permanente: segundo a lógica do capitalismo de desastre, a do caos sistêmico como força produtiva, não é mais preciso aguardar o fim da guerra para abrir os novos mercados da paz. A guerra inteiramente privatizada segundo o modelo do for-profit warfare já é ela mesma o novo mercado a todo vapor. Vale para as novas guerras de produção e gestão do caos o que vale para a indústria cultural: o meio é a mensagem, no achado de Naomi Klein: mas guerras assim politicamente vazias só se autonomizam como assunto privativo de Estados em simbiose com as Corporações, nada mais distingue Big Government e Big Business, os oligarcas são indistintamente russos, americanos ou chineses. Governa-se gerando e gerindo traumas de toda ordem, o capitalismo hoje só acumula empurrado por ondas de choque: não por acaso a tortura está de volta com uma base social ampliada em escala global. O desastre governável e rentável não pode prescindir destes estados de choque intermitentes, cuja sinistra trivialização qualquer brasileiro conhece muito bem.

“O princípio do disaster capitalism complex, que englobou e expandiu seu precursor industrialmilitar dos tempos de Eisenhower, é o da tábula rasa social, a constelação de traumas e destruições que limpam o terreno para os negócios privados, dos socorros humanitários às reconstruções, passando obviamente pelos da segurança”
FILOSOFIA - O nome do livro, Extinção, remete a um fim certo, sem possibilidade de salvação para o mundo. Você enxerga algum caminho político para reverter esse processo?
Paulo Arantes - Colhido por assim dizer em estado de dicionário, só o título, e olhe lá. Quanto ao autor, quando muito limita-se a seguir o velho preceito de esquerda, pessimismo da inteligência e otimismo da vontade. Dito isto, talvez ajude uma digressão contra-intuitiva. É que parece estar se dando na presente conjuntura um tremendo disparate intelectual: tudo indica que está desabrochando na esquerda um paradoxal otimismo da inteligência. Pelo menos é nesta chave que Perry Anderson, no editorial citado há pouco, encara algumas leituras alternativas da atual convivência, digamos ultra-imperialista à maneira de Kautsky, entre Harmonia capitalista e Guerra idem. Quatro posições críticas, porém, positivadoras do novo curso do mundo são brevemente resenhadas: o esquema do Império de Toni Negri, a Nação global de Tom Nairn, as visões chinesas do Giovanni Arrighi de Adam Smith em Pequim e a menos conhecida elaboração do filósofo Malcolm Bull acerca de uma reconstituição da Sociedade Civil em bases pós-mercado graças à entropia dos Estados imperiais (Europa, União Soviética, Estados Unidos). Está claro que não vem ao caso resumi-las, apenas chamar atenção para a bizarria desta evocação, à qual se deveria acrescentar sua contraparte: num ensaio anterior, o mesmo Perry Anderson mostrava como filósofos tão construtivos como Habermas, Bobbio e Rawls haviam se tornado não obstante, ou por isso mesmo, os mais consistentes advogados das novas guerras justas, claro, e sempre em nome da humanidade contra o seu inimigo de turno. Como disse, todos saúdam a entrada em cena da globalização como um sinal precursor da superação do capitalismo enfim encaminhada. Mas essas positivações - mais ou menos na mesma linha do progressismo oitocentista - não deixam por sua vez de pagar o seu tributo ao senso comum do nosso tempo: tudo se passa como se um choque aberrante entre fundamentalismos simétricos empurrasse o mundo para a beira do abismo. Vimos que não é bem assim como querem: algo como a constituição em processo de uma economia mundial senão igualitária, pelo menos em condições de reverter a polarização do período inicial da globalização, agora atalhada pela metamorfose militarista do poder americano: até então Estado hegemônico criador de ordem, os Estados Unidos se tornaram agentes do caos - a implosão iminente do Paquistão que o diga, muito embora na gramática superficial do mero convite ao bom senso, para variar, o confronto de sempre entre normalidade e exceção.
FILOSOFIA - Contra o neoliberalismo, há uma reviravolta iniciada por alguns países da América Latina, onde esquerdistas governam. É uma luz que se abre?
Paulo Arantes - De fato a nova paisagem latino-americana im pres siona, sobretudo se comparada ao relativo bloqueio dos movimentos sociais europeus, nele incluído os mais recentes combates franceses de retaguarda. Há quem veja na virada atual de maré o início de uma terceira onda emancipatória no continente, que por aqui sempre foi ambiguamente bifronte, a um tempo ruptura moderada das classes proprietárias com os centros cíclicos metropolitanos, e insurgência radical dos povos subalternizados desde a Conquista. A primeira onda assistiu à formação dos Estados Nacionais. A segunda, foi deflagrada com a crise dos anos 30 e se espraiou pelas várias frentes mais ou menos heterodoxas de luta contra o subdesenvolvimento. Foi precisamente no pico deste ciclo que a Revolução Cubana avançou o sinal. No interregno neoliberal que se seguiu ao colapso da modernização, a reconversão colonial voltou a ameaçar, mas algumas economias haviam logrado, no entanto, completar a sua matriz industrial. Ora, cada uma destas esquinas históricas foi dobrada num período propício de crise global das hegemonias mundiais, mudança da guarda no centro, liberdade de manobra na periferia. Além do mais, foram momentos por assim dizer ascensionais da expansão capitalista, bem ou mal incorporando sujeitos e direitos novos. Não poderia ser maior o contraste com a fase destrutiva de agora, a começar pela turbulência global que acompanha a geopolítica errática do alto comando capitalista. Neste vácuo, a América Latina começou a se mexer, empurrada pelo fracasso retumbante das políticas impostas pelo Consenso de Washington e a nova corrida mundial aos recursos naturais, o que acarretou uma relativa folga na escolha de rotas nacionais de adaptação ao novo mundo dos negócios globais. Mas estamos falando de sociedades detonadas e elites cronicamente predadoras. Por isso as “refundações” nacionais envolvem programas sociais de emergência, como as “missões” venezuelanas indicam no próprio nome. Não se trata de trilhar o caminho certo ou errado, foi o único que se abriu na presente circunstância de ... “caos sistêmico”. Aliás, todos pularam sobre a mesma janela de oportunidades, resguardadas as diferenças locais de calibragem. Até o famigerado Consenso de Washington não é mais o mesmo e se encontra em sua terceira geração – é só aplauso para as bem- sucedidas políticas latino-americanas de gestão da pobreza e desenvolvimento humano.
PATRÍCIA PEREIRA é jornalista e escreve para esta publicação
Revista Filosofia